Não adianta proteger apenas áreas que foram desprezadas pela agricultura e outras atividades econômicas. Foto: Creative Commons
O Brasil tem uma das maiores redes de áreas protegidas do mundo, com
Unidades de Conservaçãoestabelecidas em diversas categorias e esferas de gestão. Toda essa proteção estende-se por cerca de 17% do território brasileiro e tem por finalidade proteger o imenso patrimônio natural do país. Intuitivamente, toda e qualquer nova unidade de conservação criada significa mais um ponto no placar dos conservacionistas. Mas, se não for bem assim?
Globalmente, e no Brasil não parece ser diferente, áreas destinadas à conservação têm uma natureza residual. Por residual, me refiro literalmente ao que sobrou e não pôde ser utilizado para agricultura, pecuária, mineração, pesca e assim por diante. Alguns estudos científicos já demostraram que áreas protegidas possuem solos inférteis, terrenos muito acidentados e pouca (ou nenhuma) vocação para o uso econômico. Em outros casos, os limites dos parques coincidem perfeitamente com os limites de áreas de pesca de arrasto ou de espinhel, evidenciando que os parques tiveram seus contornos ajustados para permitir a pesca em seu entorno. Há ainda áreas protegidas em locais remotos, como parques marinhos enormes, mas bem distantes da plataforma continental, onde está a maior e mais ameaçada biodiversidade marinha; ou em áreas inacessíveis em florestas tropicais, e portanto, ainda sem uso econômico.
Mas isso é um problema? Muita gente acha que ter unidades de conservação residuais no Brasil não é um problema, posto que cada vez temos mais áreas sendo protegidas. Mas essa é uma maneira simplista de medir o avanço que estamos fazendo com a conservação da natureza. Pensar apenas na área total sob proteção faria sentido desde que a criação de uma determinada unidade de conservação impedisse a transformação da área em outra coisa; por exemplo, uma monocultura de soja. Além disso, seria preciso garantir que dentro da unidade de conservação a biodiversidade que mais precisa de proteção estaria de fato protegida. E quem precisa de mais proteção são espécies e ecossistemas ameaçados por desmatamento, queimadas,
mudanças climáticas, mineração, exploração de petróleo e gás, sobrepesca, etc.
| "conservamos locais que, analisando friamente, talvez nem precisassem de proteção, uma vez que não seriam convertidos em qualquer outra coisa. Resultado: locais com baixa vulnerabilidade são protegidos e locais que serão riscados do mapa para sempre são liberados para uso." |
Eu sei... pode soar um pouco estranho, mas a chave para entender a ideia é fazer uma pergunta simples: o que teria acontecido com essa área (e, consequentemente, com a biodiversidade lá existente) caso ela não houvesse sido protegida? Se sua resposta for: “Nada! Ela estaria do mesmo jeito”, então essa proteção não deveria ser efusivamente comemorada como mais um gol no placar da conservação. Em muitos casos – mais do que você imagina – essas áreas estariam muito bem obrigado daqui a 20-30 anos caso não houvessem sido protegidas; pensem no interior da floresta amazônica!
Veja que em ambas as situações, não se trata apenas de proteger o que está dentro das unidades de conservação, mas de fazer a diferença, salvando o que seria perdido, caso essas unidades não houvessem sido criadas. Note, também, que não estou falando de números e estatísticas. Para quem pensa em números ou área total protegida, qualquer nova unidade de conservação é lucro. Estou falando de “impacto positivo”, de fazer a diferença com ações de conservação.
Em áreas como a medicina, educação e desenvolvimento social, esse impacto positivo é formalmente definido como “o que teria acontecido caso uma determinada intervenção não houvesse sido implementada ou uma intervenção diferente houvesse sido feita”. Em conservação esse impacto positivo ainda é raramente estimado, mas isso vem mudando. Um exemplo é que no ano passado a conceituada revista cientifica inglesa “Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences” publicou um volume especial sobre avaliação do impacto positivo de ações de conservação no mundo.
O fato é que, com recursos escassos destinados à conservação e muita dificuldade política para implementar ações em locais com vocação para outros usos, principalmente atividades econômicas, corre-se o risco de se optar pelo caminho mais fácil. Esse caminho é o de proteger áreas residuais, que não foram usadas para outros fins e, portanto, poderiam ser transformadas em unidades de conservação. Pior, a biodiversidade perdida em áreas não protegidas normalmente só ocorre ali, onde nunca mais serão encontradas.
A consequência de não se avaliar o impacto positivo da criação de áreas protegidas no mundo e nas unidades de conservação no Brasil é clara: embora tenhamos dobrado a área total protegida no planeta nos últimos 10 anos, nunca tivemos tantas espécies ameaçadas de extinção sem proteção alguma. Isso parece um contrasenso. Parece! Mas isso é esperado porque não direcionamos, necessariamente, nossos esforços para a proteção de ambientes e espécies que estão sumindo devido à exploração humana. Ao contrário, conservamos locais que, analisando friamente, talvez nem precisassem de proteção, uma vez que não seriam convertidos em qualquer outra coisa. Resultado: locais com baixa vulnerabilidade são protegidos e locais que serão riscados do mapa para sempre são liberados para uso.
Enquanto nossos objetivos conservacionistas forem o de aumentar a área total protegida do país e não o de proteger aquilo que pode desaparecer para sempre, o placar continuará a favor da extinção e contra a biodiversidade. O assunto é polêmico, sem dúvida. Espero retomá-lo em outras colunas, pois há muito o que conversar. Ainda assim, está na hora de perguntarmos “o que aconteceria com essas áreas caso elas não houvessem sido convertidas em unidades de conservação?” ou, de maneira mais simples, “nossas unidades de conservação fazem a diferença?”
Postado Por: Carlos Paim


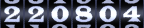
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial